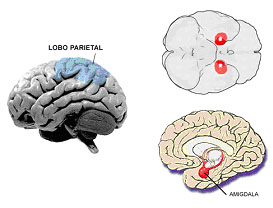Apesar de termos uma única língua oficial, a variação lingüística no país é tão grande, que o ensino do português torna-se um verdadeiro desafio para os professores. Esse é um dos problemas analisados por uma tese de doutorado recém-defendida na Unicamp.
O Brasil é um país de dimensões continentais, unido pela mesma língua oficial, de norte a sul. Pelo menos é isso que a escola ensina. Mas basta entrar em qualquer sala de aula, de qualquer série em qualquer estado, para constatar que essa “língua única” não passa de um mito. De fato, a variação lingüística no país é tão grande, que o ensino do português torna-se um verdadeiro desafio para os professores. Esse é um dos problemas analisados pela tese de doutorado “A gente não quer ser tradicional, mas… como é que faz, daí?” – A inovação curricular e o debate popularizado sobre língua portuguesa e ensino, defendida no final de fevereiro no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp.
A autora, a lingüista Clara Dornelles, examina as relações entre o debate popularizado nacionalmente pela mídia sobre língua e ensino – que muitas vezes enfatiza esse “português único” – e o que o professor encontra realmente dentro de uma sala de aula: uma língua viva, variada e que não está nos livros. Ela também avalia como essa questão é tratada nos cursos de letras, que formam professores de português.
A tese coloca em pauta uma questão perturbadora. Afinal, cerca de metade dos alunos que chega ao final do ensino fundamental possui sérios problemas de leitura e escrita, ou mesmo não sabe ler ou escrever, segundo dados do Ministério da Educação. A situação é muito mais complicada do que apenas discutir “onde mora o problema: no aluno ou no professor”, e extrapola os muros das instituições de ensino. “A cultura da aula de português como aula de gramática (decoreba de nomenclatura e análise mecânica de frases descontextualizadas) está muito impregnada na mentalidade das pessoas. Até mesmo aquelas que sofreram na juventude com aulas de português, que detestavam esse tipo de aula, quando adultas, acham que é assim mesmo que se faz e querem que essa tradição pedagógica seja preservada junto a seus filhos”, explica Marcos Bagno, lingüista e professor da Universidade de Brasília (UnB).
O que ocorre, muitas vezes, é a repressão da variedade lingüística dos alunos, criando-se uma barreira entre a língua que falam e aquela imposta pela escola. “É no ambiente escolar que o aprendiz descobre que a língua que ele fala pode se manifestar através de formas diferentes daquelas que já conhece, que traz de seu convívio social. Ele descobre que além de ‘as menina veio tudo’ também existe ‘as meninas todas vieram’. Para muitos alunos, essa descoberta é um choque, é quase tentar entender uma língua estrangeira”, diz Bagno.
“Na escola, o que se tem mostrado é que quanto mais se criam fronteiras rígidas entre oral e escrito, padrão e não padrão, mais difícil se torna para o aprendiz falante de variantes de menor prestígio transitar das formas e modos de raciocinar/agir/avaliar no uso da língua que lhe são mais familiares para as formas e os modos de raciocinar/agir/avaliar que está conhecendo na escola”, aponta Inês Signorini, do IEL, orientadora da pesquisa.
Mas não é apenas o aluno que sofre com o ensino tradicional de português: o professor também enfrenta uma situação delicada ao tentar lidar com tantas variedades lingüísticas dentro da sala de aula, com a pressão das escolas e dos pais que cobram o ensino tradicional, e com uma formação lingüística muitas vezes deficitária. A pesquisa de Dornelles aponta que o tratamento que se dá à questão da variedade lingüística nos cursos de letras é, na maioria das vezes, conservador, não preparando o professor para a realidade da profissão. “Tenho observado um esvaziamento cada vez mais visível do papel do professor enquanto agente institucional responsável pelo trabalho no ‘aqui e agora’ da sala de aula, ou seja, enquanto instância de produção (e não só de reprodução) e transformação do conhecimento em função de contextos específicos”, afirma Signorini.
Para preencher esse vazio, criam-se inúmeros mecanismos pedagógicos, como documentos oficiais de parametrização de currículos e programas, materiais didáticos em forma de roteiro de aula, computadores e outros aparelhos tecnológicos nas escolas, em vez de se investir na formação dos professores. “As condições de trabalho catastróficas dos professores impedem que eles se dediquem a preparar aulas, forçando-os a se limitar aos exercícios de análise sintática e decoreba gramatical que já vêm prontos nos livros didáticos”, diz Bagno. Apesar disso, muitos professores se esforçam para inovar, mas não possuem preparo adequado nem apoio da escola. Os que conseguem fazer algo diferente, incentivando o debate e propondo outras formas de se trabalhar com a língua, muitas vezes encontram forte resistência das instituições de ensino e dos próprios pais dos alunos, e acabam desistindo de seus projetos.
Reforma curricular
Frente a essa complicada situação, a proposta mais freqüente para se tentar resolver o problema é a reforma curricular. Mas, segundo Bagno, não é preciso mudar o currículo: basta seguir as diretrizes definidas nos documentos que vêm sendo produzidos pelo MEC desde 1997. “Nestes documentos, fica claro que o objetivo principal da aula de português é levar o aprendiz a se tornar um eficiente leitor e produtor de textos. E, por incrível que pareça, a pessoa só aprende a ler e a escrever… lendo e escrevendo! Com isso, sobretudo nos primeiros anos de escolarização, a escola deveria se concentrar ‘apenas’ em fazer isso: ler e escrever”, afirma. “Além disso, o ensino, em vez de reprimir a fala autêntica dos alunos, deve partir dessa fala, desse conhecimento lingüístico poderoso que eles já têm, para ampliar seu repertório lingüístico”, completa.
“Talvez a questão imediata não seja a de introduzir ou retirar itens do currículo. Talvez o mais urgente seja se tentar estabelecer localmente etapas de um plano de educação lingüística para os alunos daquela escola, daquela série ou turma. O que significa dizer, encarar de fato a questão da heterogeneidade sociocultural e lingüística do país”, explica Signorini.
De qualquer forma, para uma mudança efetiva e eficaz, é preciso investir no professor, desde sua formação. “O primeiro passo é garantir aos professores uma boa formação, para que saiba reconhecer esses problemas socioculturais e para que tenha instrumental teórico e pedagógico para enfrentá-los”, aponta Bagno. “Para isso, é preciso urgentemente criticar e reformular de modo radical os cursos de letras de todo o Brasil. Do modo como estão estruturados, eles não servem para nada. Os estudantes são bombardeados com teorias e teorias, que aprendem mal e superficialmente, e não recebem aquilo que de fato interessa para a formação docente”, conclui.