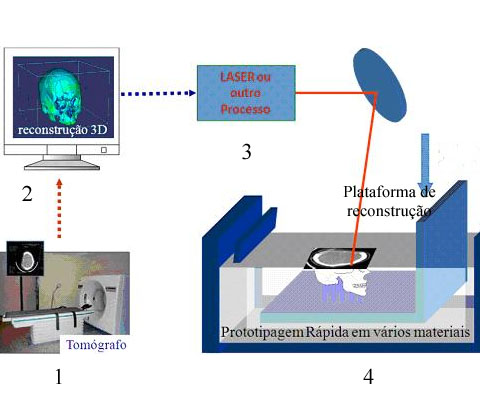Em visita ao Brasil, o diretor do Museu de Ciências de Barcelona, Jorge Wagensberg falou sobre os aspectos que contribuem para que o público de sua instituição saltasse para 2 milhões anulamente.
Com colaboração de Márcio Derbli
Quem trabalha com museus de ciência sabe que o setor ainda está longe de viver uma situação ideal. Faltam visitantes, os recursos para montar e manter boas exposições são escassos, o conteúdo das mostras muitas vezes não passa de uma reprodução de livros didáticos. Entretanto, algumas exceções mostram que alterar essa realidade é possível. Uma delas é o Museu da Ciência de Barcelona dirigido por Jorge Wagensberg. De férias no Brasil e em visita ao Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Wagensberg falou nesta semana sobre algumas das ações responsáveis pelo salto de 700 mil visitantes, em 2004, para os 2 milhões esperados neste ano.
O diretor afirma que a própria maneira como o projeto arquitetônico de um museu é desenvolvido pode influenciar no seu sucesso posterior. Museólogo e arquiteto precisam dialogar na tentativa de casar forma e conteúdo. “O que acontecesse muito é chamarem um arquiteto famoso que constrói um edifício autoral e estiloso, mas no qual não se consegue colocar lá dentro nada que fique bom”, afirma o também consultor de museus de ciência no Brasil.

Pensando nisso, o Museu de Barcelona foi projetado com uma série de características que o diferem de seus concorrentes. Em primeiro lugar, uma ampla praça foi construída sob o museu subterrâneo de modo a permitir que visitantes e estudantes de universidades que a rodeiam utilizem o espaço. Somado a isso, o uso de vidro no topo do museu e, consequentemente, no piso da praça possibilita que as pessoas na praça consigam enxergar o conteúdo exposto no interior do edifício. Wagensberg comenta que “quando um menino passa em frente ao museu e vê o brilho no olho de outro que está em contato com os conteúdos científicos, ele também quer fazer parte daquilo”.
A entrada do museu, segundo o físico e museólogo espanhol, também merece cuidados especiais. No caso do Museu de Barcelona, o visitante chega às mostras por meio de uma longa rampa em espiral, que circunda uma árvore amazônica (Acariquara) de 30 metros de altura. Essa rampa foi projetada com uma função psicológica específica. Wagensberg conta que, como o público do museu é composto principalmente por alunos do ensino básico, a rampa ajuda a dissipar a empolgação inicial dos estudantes. Até chegarem aos locais de exposição, os visitantes já estão mais calmos e, com isso, focam melhor a atenção ao conteúdo exposto.

O diretor do museu catalão acredita que o mais importante para um museu de ciência não é trazer visitantes, mas sim fazer com que este visitante deseje voltar. Para isso, Wagensberg aposta na emoção ao invés de tentar fazer com que as pessoas compreendam a ciência ali exposta. “O importante é que o visitante saia com mais questionamentos do que quando entrou. O que faz o valor de um museu, mais do que o número de visitantes, é a quantidade de conversa que ele provoca em quem o visita”, afirma.
Com este modelo, Wagensberg critica algumas exposições de ciência que, na sua visão, simplesmente colam livros de ciência na parede. Ele explica que a língua do museu não é a escrita nem a fala, mas sim, pedaços de realidade. Se o assunto de uma exposição é um peixe, o melhor a fazer não é mostrar um texto ou uma fotografia do animal, mas sim o próprio peixe em um habitat próximo do seu natural, ou algo que se aproxime à situação real.
Outro importante elemento, diz o museólogo, é que um pouco de criatividade, não apenas objetos, contribui para reproduzir fenômenos científicos através de metáforas. Em Barcelona, com luzes e materiais apropriados, eles conseguiram montar um experimento que mostrasse ao público visitante algo abstrato como a ação da terceira lei de Newton (lei da ação e reação).
Entre os museólogos, muito se discute sobre qual ciência é mais interessante de ser divulgada nos museus e qual a imagem da ciência que deve ser divulgar para o público. Wagensberg opta sempre por transmitir a ciência que chama de “verdadeira”, aquela que emociona o próprio cientista. “Ao expor um fóssil de dinossauro perguntamos a um paleontólogo o que de mais importante existe naquela peça. Se ele disser que é a bacia daquele animal que é completamente diferente do que se conhecia até então, será isso que daremos destaque na mostra”.