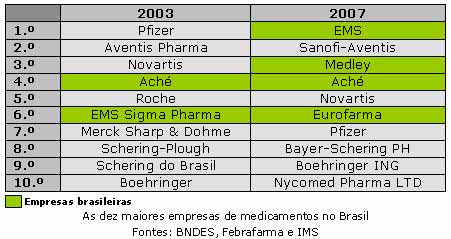Um lugar sem terremotos, furacões, vulcões nem tsunamis. Até pouco tempo, o Brasil ostentava uma fama de paraíso terrestre. Mas esse suposto Éden está revelando um lado nada tranqülio. Um sinal de preocupação veio do tremor do último dia 22 de abril, que atingiu 5.2 na escala Richter e foi sentido em quatro estados, atingindo áreas litorâneas e parte do interior. Segundo especialistas, esse é apenas um dos fenômenos naturais aos quais o Brasil está sujeito. Essas terras, onde hoje se vêem furacões e terremotos, já sofreu até tsunami segundo registros históricos.
Tsunami
A onda gigante teria ocorrido em 1542, na Vila de São Vicente, ocasião em que o mar teria avançado 300 metros terra adentro. Essa história esteve nos debates da 57a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e já foi publicada em diversos periódicos científicos. Por isso, de acordo com os registros da SBPC, as primeiras igrejas de São Vicente, mergulhadas no oceano, hoje só podem ser vistas com equipamento de mergulho. Elas seriam um vestígio do vagalhão que atingiu o litoral paulista no século XV.

Para o físico Carlos França, do Instituto Oceanográfico da USP, a possibilidade de ocorrerem tsunamis destrutivos na costa brasileira é muito remota – mas não impossível. Segundo ele, ocorrem tsunamis de pequena amplitude na costa brasileira, que às vezes são detectados. “Tsunamis são ondas causadas por movimentos tectônicos (terremotos, deslizamentos de terra, explosões vulcânicas) no oceano ou nas proximidades”, diz. “Há também a possibilidade de que geleiras se desprendam do continente e, caindo no oceano, causem tsunamis”, completa. Mas a costa do Brasil está no centro da placa tectônica sul-americana, explica ele, e, por isso, a atividade tectônica aqui é pequena.
Vulcões
Já os vulcões brasileiros são, de fato, vestígios de um passado distante e não mais representam uma ameaça. Ironicamente, a região que hoje o Brasil ocupa foi a primeira do planeta a apresentar atividades vulcânicas. Com cerca 1,9 bilhões de anos, os vulcões da Amazônia são os mais antigos reconhecidos no mundo, conforme revela um dos seus descobridores, o geólogo Caetano Juliani, do Instituto de Geociências da USP. Juliani conta que os vestígios desses vulcões, cuja atividade foi uma das mais importantes do planeta na época, cobre mais de 1.100.000 km2.
Mas, segundo o geólogo, esses vulcões jamais voltarão à atividade, pois o seu ciclo geológico de vida se extinguiu há uns 1,85 bilhões de anos. “Isso porque eles foram gerados num processo de subduçcão (quando uma placa tectônica entra por baixo da outra) que terminou com a colisão de dois continentes; ou seja, não há mais movimentos”, diz. E os extintos vulcões brasileiros excedem os limites da Amazônia. “Estamos identificando restos de pelo menos mais uns quatro ou cinco na região de São Felix do Xingu, Pará”, revela Juliani.
Já furacões e ciclones são ameaças reais. O furacão Catarina, que se formou a 400 km da costa sul do Brasil, atingiu o país em 2004. Para o físico Reinaldo Haas, dos Laboratórios de Engenharia de Processos de Conversão e Tecnologia de Energia (LEPTEN) da Universidade Federal de Santa Catarina, esse fenômeno pode estar ou não ligado às mudanças climáticas – quando o Catarina se formou, havia águas muito quentes do Oceano Atlântico na Antártida.
Quando se trata de ciclones e tornados, Haas conta que, desde os anos 70 e 80, os eventos severos têm aumentado em freqüência e intensidade no Brasil. Para ele, uma das razões pode ser a posição do anticiclone do Atlântico Sul, localizado hoje mais a oeste do que na primeira metade do século XX. O anticiclone é uma zona de alta pressão em que os ventos giram no sentido anti-horário. Haas aponta também o aquecimento global com elevação da umidade – que explica as temperaturas noturnas mínimas maiores, verificadas nos últimos anos – e a poluição, sobretudo a das queimadas, que parece estar agindo nas nuvens da região sul. “Esta última é uma hipótese, pois temos feito medidas com chuva, que tem apresentado fuligem de queimadas”, diz.