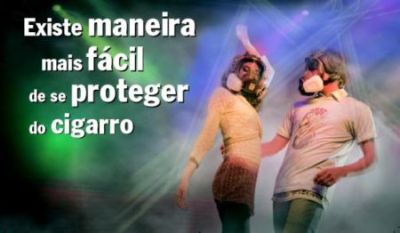Em 1984, foi desenvolvido um dos critérios de diagnóstico de Alzheimer mais utilizados nos dias de hoje, o NINCDS-ADRDA. De lá para cá houve muitos avanços no combate à doença que, apenas no Brasil, afeta um milhão de pessoas. No entanto, o diagnóstico é feito quando o paciente apresenta perda de memória com déficits cognitivos. Este quadro poderá ser minimizado com o aperfeiçoamento dos critérios de diagnóstico da doença, a exemplo do trabalho liderado pelo neurologista francês Bruno Dubois, que permitirá detectar o Alzheimer em estágio inicial, aumentando a eficácia dos tratamentos disponíveis.
Para a equipe de Dubois, já estava mais do que na hora de usar esses avanços em prol de um NINCDS-ADRDA revisado e moderno. Os resultados, publicados em artigo no periódico britânico Lancet Neurology (vol. 6, ed. 8, 2007), foram baseados na associação de dados e parâmetros de análise clínica com exames laboratoriais, análise de líquor, ressonância magnética e tomografia por emissão de pósitrons (PET, na sigla em inglês) em regiões específicas de ação da doença, como o hipocampo e o córtex entorrinal. Muitos desses processos já fazem parte do diagnóstico atual da doença, inclusive no NINCDS-ADRDA. Mas a combinação de tais métodos da forma como propõe a equipe de Dubois é que pode levar a um diagnóstico precoce.
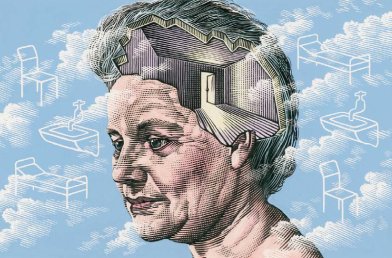
“Com o diagnóstico novo, mostrando parâmetros que apontam para lesões compatíveis com a doença, é possível tratar precocemente”, explica Benito Damasceno, coordenador do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Segundo ele, os critérios atuais de diagnóstico só permitem que se detecte o Alzheimer quando o paciente manifesta outros déficits cognitivos, sejam de linguagem, percepção, destrezas motoras ou funções executiva, que é quando se perde a capacidade de realizar tarefas fora de casa, como fazer compras.
O novo critério ainda precisa da aprovação por consenso da comunidade médica nos congressos internacionais e comitês de ética para ser utilizado clinicamente. Além disso, é preciso ressaltar que sua realização é mais cara e alguns procedimentos necessários a sua prática ainda não estão disponíveis no Brasil. O Alzheimer não tem cura. Os tratamentos medicamentosos atuais conseguem apenas estabilizar temporariamente a deterioração do tecido cerebral em parte dos pacientes, além de restabelecer alterações de humor geradas pela doença como apatia e depressão. Apesar da incerteza quanto à eficácia, tais remédios custam caro. O custo do tratamento mensal sai por R$ 200 em média e são comuns efeitos colaterais que vão de problemas gastrintestinais à tontura, falta de apetite com ocorrência de anorexia, sonolência e suor corpóreo elevado. “Não se pode criar outra doença além da que o indivíduo já tem”, enfatiza Damasceno.
Entre os fatores que desencadeiam o Alzheimer está a ação nociva de, principalmente, duas proteínas: a beta-miloide e a tau hiperfosforilada. Enquanto a primeira age mais na região externa do neurônio, causando uma reação inflamatória, destrutiva, a segunda age no interior celular, destruindo a arquitetura da célula, seus microtúbulos. O resultado é que os neurônios não conseguem mais transportar substâncias.
Despreparo no diagnóstico
Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) permite que se façam exames clínicos e laboratoriais para o diagnóstico de Alzheimer. Tomografia convencional e ressonância magnética também são pagas pelo Estado em regiões em que existam tais equipamentos.
“Não é difícil diagnosticar a doença. Mesmo com os métodos pagos pelo SUS chegamos a um diagnóstico eficaz de 80%. Os demais 20%, apesar de preencher os critérios de Alzheimer, mostram outra lesão na análise patológica pós-morte do paciente”, afirma o neurologista.
__Damasceno também diz que, atualmente, mais casos de Alzheimer são diagnosticados que no passado graças à melhor capacidade de diagnóstico dos médicos. Isso ocorreu devido, em parte, ao patrocínio da indústria farmacêutica no aperfeiçoamento desses profissionais. “A intenção da indústria é que os médicos prescrevam seus medicamentos em pacientes que realmente tenham a doença pois, caso contrário, eles [os medicamentos] vão falhar”, defende.
Apesar dos avanços, o problema maior no diagnóstico da doença continua sendo o despreparo de alguns médicos. “Hoje em dia ainda tem neurologista que não consegue diagnosticar Alzheimer, pois acha que é outra coisa. Ou pior ainda. Basta o paciente se queixar de problema de memória para muitos profissionais diagnosticarem a doença ou indicarem uma tomografia sem fazer um exame detalhado ou exame de sangue para ver se há deficiência de vitamina B12 ou de hormônio da tireóide, fatores que também causam demência. E aí prescreve o medicamento precipitadamente”, lamenta Damasceno.