Educação de qualidade. Anseio dos brasileiros há muito tempo, prioridade nos discursos de governos e governantes. É também preocupação de cientistas. Este mês uma publicação e um seminário discutiram propostas para elevar a qualidade da educação básica no Brasil: o mais recente número (60) da revista Estudos Avançados da USP e o seminário organizado pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (Nepp), ocorrido no dia 07 de setembro, no Instituto de Economia da Unicamp. O que os pesquisadores entendem por qualidade, no entanto, não é unanimidade. Enquanto para alguns ela está relacionada a ideais humanistas e republicanos, como democracia e cidadania, para outros está ligada a ideais tecnocráticos e mercantis, como boa gestão e desenvolvimento econômico.
José Sérgio F. de Carvalho, professor de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da USP, é um dos adeptos da primeira noção. Na resenha que fez do livro A qualidade do ensino na escola pública, de Rui Beisiegel, referiu-se à qualidade do ensino como um conceito polissêmico, que pode incorporar diversas interpretações, mas que o importante é que não seja entendido como algo fixo e imutável. Para ele, assim como para o autor do livro resenhado, qualidade na educação hoje é diferente do que era nos anos 50 e 60. Nessa época, entravam nos ginásios, correspondentes hoje à segunda fase do ensino fundamental, menos de um terço dos alunos que concluíam o primário. A qualidade da educação estava relacionada ao seu caráter seletivo e elitista.
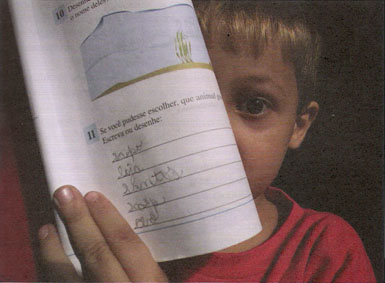
Hoje já não faz sentido a busca nostálgica por esse ideal de qualidade, explica José Sérgio: “com a universalização do ensino fundamental, o público e os agentes da escola são outros, assim como suas condições de funcionamento, suas funções e seus objetivos”. O desafio hoje é a democratização do acesso aos bens culturais comuns presentes nas disciplinas, saberes e valores da escola. O professor defende um conceito de qualidade do ensino público voltado para o atendimento dos alunos das camadas mais pobres. Isso requer uma renovação de conceitos, procedimentos, critérios e práticas pedagógicas e avaliativas, afirma ele.
Esta renovação é outro problema. Dois colaboradores da Estudos Avançados concordam com a perspectiva que evidencia a democratização social e defendem como primordial para a qualidade do ensino público a participação popular: José Clóvis de Azevedo, coordenador do Centro Universitário Metodista IPA e ex-secretário da educação de Porto Alegre (1997-2000), e Glaura Vasquez de Miranda, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ex-secretária de educação de Belo Horizonte (1993-1996).
Para ambos, qualidade do ensino público significa garantir não apenas o acesso de todos à escola, mas o direito de todos de aprender conteúdos e valores significativos, que não seriam aqueles homogeneizados e cristalizados nos currículos tradicionais. As propostas de Miranda e Azevedo, baseadas em grande medida nas experiências por eles analisadas, respectivamente, da Escola Plural, de Belo Horizonte, e da Escola Cidadã, de Porto Alegre, valorizam idéias e valores como democracia, cidadania, direito, participação, política, crítica, liberdade, autonomia, ética e defesa da vida.
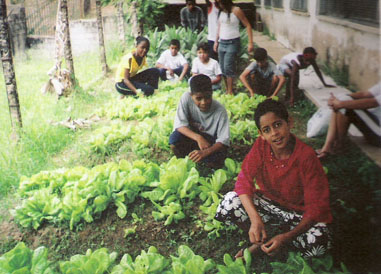
A fala de Maria do Pilar Almeida e Silva, secretária de educação básica do Ministério da Educação (MEC), durante o seminário do Nepp, também evidenciou a idéia da escola e da qualidade da educação como direitos a serem reforçados. “No PDE [Plano de Desenvolvimento da Educação] há uma visão muito clara: a escola é um direito. Tem que ser garantido o direito de aprender para todos e para cada um”, ressaltou, e concluiu: “Recuperar a visão do direito é o nosso grande desafio”.
Já Sofia Lerche Vieira, da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e secretária de educação básica do Ceará, avalia em seu texto na revista Estudos Avançados que, na década de 90, “a democratização da gestão não se traduziu em melhorias de indicadores de resultados de aprendizagem de estudantes” naquele estado. Preocupada com uma gestão que propicie o sucesso escolar, ela vê como fatores decisivos: a busca da gestão por resultados (e não de processos); o estabelecimento de uma cultura de avaliação sobre o sistema de ensino; e a consideração do desempenho escolar como indicador de sucesso.
Compartilham opinião semelhante Maria Helena Guimarães de Castro, secretária da educação do estado de São Paulo, e Mariza Abreu, secretária de educação do Rio Grande do Sul. As duas foram palestrantes no seminário do Nepp. “Educação básica de qualidade não é questão só de qualidade de vida e cidadania, mas de desenvolvimento econômico e de condições de competitividade – e isso não é ruim”, exaltou Abreu, na parte da manhã, e complementou: “É preciso recursos em quantidade suficiente e bem geridos”.
Durante a tarde, Maria Helena Castro contrapôs-se ao pesquisador Jorge Abrahão Castro, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), que defendeu o maior comprometimento do Produto Interno Bruto (PIB), em termos percentuais, com o financiamento da educação. Para ela, “o gasto não é a variável mais importante para o desempenho. É preciso ter isso em vista para não incorrer no risco de aumentar os recursos sem saber como gastá-los bem”. Currículo, avaliação e responsabilização das escolas foram os pontos enfatizados por Castro. “É preciso sinalizar claramente para as escolas e professores até onde eles devem procurar chegar”, enfatizou ainda, quanto à definição de parâmetros curriculares.
Simon Schwartzman, sociólogo e presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), foi na mesma direção de Castro em sua fala. Para ele, as iniciativas tomadas nos anos 90, de orientar a política educacional a partir de indicadores, foram um avanço. Mas ainda é um problema estabelecer metas adequadas aos conteúdos curriculares com base nos indicadores. Ele defende o estabelecimento de currículos mais estritos, a cultura da avaliação e a avaliação por desempenho dos professores, que de acordo com ele deve ser feita “mesmo que seja uma transferência da cultura empresarial para a escola”.

O contraste nos discursos dos representantes governamentais, e nas análises de pesquisadores, expressa embates, dilemas e desafios que formam a noção de qualidade da educação no Brasil. Discursos que orientam diferentes rumos na elaboração das políticas públicas educacionais. Na análise de José Clóvis de Azevedo, são dois os modelos em disputa: da escola cidadã e da “mercoescola”.
