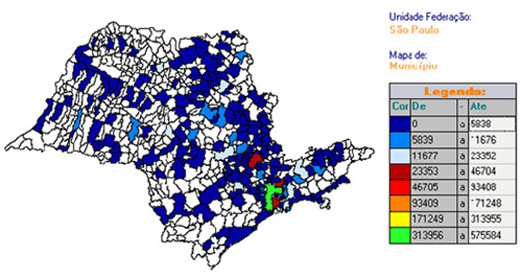Este ano teve início o Plano Nacional da Leitura e do Livro (PNLL), a primeira tentativa de ação coordenada entre os Ministérios da Educação (MEC) e da Cultura (MinC), criado em 2005 como conseqüência do Ano Ibero-americano da Leitura. Com a meta de dobrar o índice nacional de leitura até 2008, um dos pontos fundamentais do PNLL é o fortalecimento econômico do setor livreiro por meio de linhas de financiamento com o “BNDES Pró-Livro” e programas de incentivo fiscal, como o “Imposto Zero”, que implica a desoneração da cadeia produtiva do livro. Embora ainda não esteja consolidada, a nova política de fomento à leitura recebe críticas por incentivar mais o crescimento das editoras do que o envolvimento dos leitores com os livros, repetindo os mesmos erros de ouros programas vigentes.
“Mais uma vez, podemos observar que, subjacentes a uma pretensa política de valorização do livro e da leitura, encontram-se os interesses econômicos dos grandes grupos editorias, cujos maiores clientes são o governo federal e os governos estaduais com seus programas de aquisição de livros”, critica Carlos Eduardo de Oliveira Klébis em sua dissertação de mestrado sobre o papel da escola, da biblioteca e dos professores na formação de leitores, apresentada no dia 08 de agosto, na Unicamp.

No estudo, o pesquisador observa que o envolvimento com a leitura é influenciado por heranças culturais impregnadas no cotidiano das escolas, nas regras das bibliotecas e na subjetividade dos professores, e também, e especialmente, pelas políticas públicas de leituras.
A própria desarticulação entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Cultura (MinC) desde 1985 sinaliza para os desafios e dificuldades de criar na escola uma política cultural de formação de leitores. Distinguindo-se um planejamento do outro, a relação da educação com a cultura foi seccionada e os programas e projetos governamentais em torno do livro, da biblioteca e da leitura colocados em prática nas últimas duas décadas não conseguiram a profundidade e consistência necessária para serem eficientes de fato.
Os principais programas de aquisição e distribuição de livros do governo federal são o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), instituído em 1985, e o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), criado há dez anos. Mantidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sob a coordenação do MEC, o primeiro concentra os recursos na compra de livros didáticos que são distribuídos gratuitamente aos alunos da rede pública, e o segundo na aquisição de coleções para-didáticas e de livros literários destinados às bibliotecas escolares.
Ao contrário do PNLD, que permite a participação dos professores na escolha dos livros a serem adquiridos, o PNBE exclui essa participação. Além disso, ignora em seu projeto a designação de um bibliotecário para as bibliotecas escolares e não oferece subsídios para a organização, catalogação e circulação dos acervos entre os estudantes. “O PNBE não fomenta nem dinamiza as bibliotecas escolares. Não é nada além de um programa de distribuição de livros”, aponta Klébis.
Alimento para traças
Por conta dessa falha no planejamento do PNBE, apesar de abarrotadas de livros, muitas bibliotecas escolares permanecem trancadas e inacessíveis os alunos e aos professores. “Se, por um lado, as políticas distributivas de livros conseguiram despejar montanhas de livros nas escolas, por outro, muito pouco ou quase nada se empenham no sentido de oferecer condições para que os leitores possam ter acesso às bibliotecas escolares”, comenta.
O resultado, o pesquisador descreve a partir de sua própria experiência como professor de uma escola pública da periferia da cidade de Campinas: “na biblioteca, o acervo de mais de cinco mil livros divide espaço com vassouras e produtos de limpeza. Com medo de desgaste e extravio dos livros, ela está permanentemente fechada aos alunos, e se tornou um depósito, servindo apenas para satisfazer a gula das traças”.
Ao seu relato, ele reuniu os de mais 264 professores da rede pública estadual, compilados entre 2004 e 2005, no curso “Teia do Saber” da Unicamp. Os depoimentos foram colhidos nos primeiros dias de cada curso e permeiam todas as análises de seu estudo, intitulado Leitura e envolvimento: a escola, a biblioteca e o professor na construção das relações entre leitores e livros. “O professor atua como o mediador entre livros e estudantes. A escola é a estrutura que torna a leitura possível e a biblioteca é o espaço por excelência da leitura”, explica o autor.
Além da inacessibilidade das bibliotecas, o autor destaca que a preocupação dos professores com as avaliações, e em cumprir com os programas, atropela uma etapa fundamental da leitura: a contemplação. Este momento é importante porque nele são criados vínculos entre leitores e livros.
Para o pesquisador, o envolvimento é outra etapa imprescindível para que os estudantes desenvolvam o prazer pela companhia dos livros. Da mesma maneira que em uma relação amorosa, em que a pessoa primeiro se envolve por um interesse inicial, que é o desejo, e só depois começa a construir, desenvolver uma relação, conhecendo melhor o outro e aceitando suas idiossincrasias, assim deveria ser o processo de formação de leitores. “O que acontece, no entanto, é que esse primeiro envolvimento fica fora. O discurso sobre leitura se preocupa em desenvolver habilidades de leitura. Mas não vemos nesse discurso a preocupação em aproximar o sujeito dos livros, em proporcionar uma convivência”.